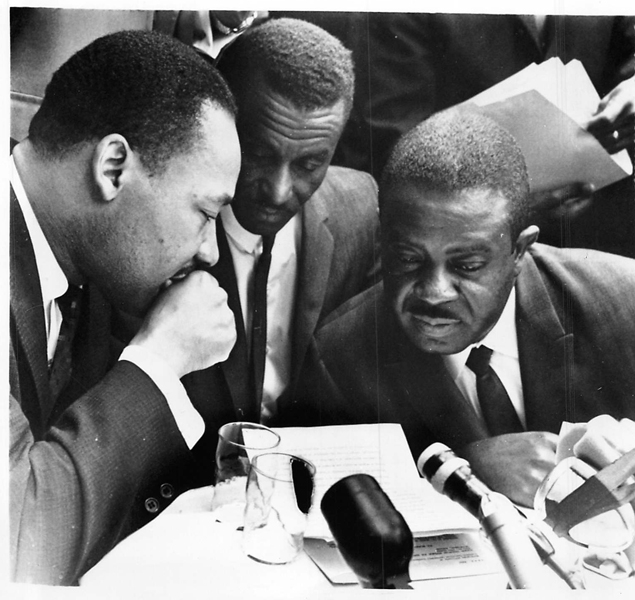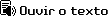Un centenar de escuelas, 5.000 bailarines profesionales... la salsa es un asunto serio en este rincón de Colombia
El nuevo filme de Chus Gutiérrez se inspira en esta revolución
La cintura mulata de Melisa Dorado ya está acostumbrada a la ovación: consiguió que un estadounidense se colocara de pie, para aplaudirla, después de verla bailar. Que un japonés le tomara fotos casi con la misma devoción que un fanático lo haría frente a su estrella de rock favorita. Y que una reconocida bailarina puertorriqueña le preguntara cómo logra ella, Melisa, mulata caleña, doblar esa cintura con tanta rapidez y destreza, como si en vez de bailar lo suyo fuera un pacto de rumba con el mismísimo diablo.
Ella sonríe mientras lo cuenta. O lo recuerda. Esos episodios ocurrieron hace ya bastantes años, a comienzos de los ochenta. Melisa fue una de las primeras bailarinas profesionales de esta Cali pachangera —como tantas veces cantó el maestro Jairo Varela, fundador del Grupo Niche—, cuando todavía las escuelas de salsa no crecían silvestres, como hoy, en cualquier barrio.
Hoy se cuentan en 120 las que están legalmente establecidas y a las que caleños y extranjeros (unos 8.000 cada año, según la Secretaría de Cultura), acuden para intentar cogerle el paso a esa frenética manera de bailar que identifica a una ciudad que se levanta, altanera y gozona, sobre las faldas de una gran cordillera. Ese particular estilo, que se caracteriza por la acelerada velocidad con que se agitan los pies, ya se respeta: se conoce en los campeonatos internacionales como Cali style.
A nadie sorprende entonces que esta fama gozona haya despertado en la directora Chus Gutiérrez el interés por llevar a la gran pantalla una historia de amor contada al compás del Cali style. Y que su película, que realiza con la productora colombiana 64AFilms y será protagonizada por la caleña Carolina Ramírez y el español Julián Villagrán, se inspire enDelirio, un espectáculo en el que participan 600 bailarines de las mejores escuelas de salsa.

Bailarines colombianos bailan salsa en Cali, en una plantación de caña de azúcar. / KIKE CALVO (CORBIS)
Melissa Dorado, la bailarina cuya cintura ya está acostumbrada a la ovación, espera que la película,Ciudad Delirio, recree “más que una historia, el milagro social que ocurre en nuestros barrios, donde miles de muchachos aguardan por una oportunidad para brillar en el baile y construir su proyecto de vida; hoy muchos pueden vivir dignamente del oficio”. Es lo que espera también la propia Chus Gutiérrez. “Esta es una comedia romántica llena de colorido que hurga en la esencia de la salsa caleña, la que se goza en los barrios y que aparta a los chicos de las calles, de la violencia y las drogas”. Lo sabe bien Luis Eduardo Hernández, fundador de la Academia Swing Latino, la más premiada dentro y fuera de Colombia. Todos aquí le llaman Mulato. Y este Mulato, tres décadas atrás, cuando todos creían que bailar salsa era asunto de mera diversión de fin de semana, fundó una humilde escuela de baile en El Diamante, un barrio por el que daba miedo caminar a cualquier hora del día por culpa de la violencia de las pandillas.
El hombre fue a por más y, poco tiempo más tarde, se inscribió por su cuenta en uno de los campeonatos de salsa mundiales de la época. Sin apoyo económico, aún Luis Eduardo se pregunta cómo hizo para llegar hasta Estados Unidos, con otros tres bailarines, cargando apenas en su mochila de soñador una camisa de lentejuelas y un viejo de par de zapatos que se vio obligado a lustrar él mismo, con una pintura de diferente color cada día de competencia, para que a nadie le quedara la impresión de que era un caleño pobre extraviado en el anhelo de ser un bailarín de los grandes.
Es el mismo sueño de cerca de 5.000 profesionales que hay en Cali. Agrupados en 295 grupos, 3.500 de ellos participaron en el reciente Mundial de Salsa que bajó el telón el pasado 11 de agosto. Jóvenes que desde los 6 años, a veces menos, empezaron a formarse en las academias.
Jóvenes como Carlos Alberto Muñoz que encontró en el baile una armadura contra el látigo de la violencia urbana. Cuando era chico, su familia se dedicaba a la venta de droga en el barrio El Rodeo, al oriente de Cali. Sus hermanos habían pisado la cárcel varias veces. Y a él, parecía, le estaba escrito el mismo destino. Pero Carlos quiso cambiarlo y entró a la Escuela de Swing Latino hace una década.
Ensayó durante años, como lo hace aún la inmensa mayoría de bailarines en formación: tres horas diarias en las noches, después del colegio, tres o cuatro días a la semana. Hasta la escuela llegaba Carlos en su bicicleta y se las arregablaba para conseguir el dinero necesario para el vestuario y los zapatos. Y esa realidad no ha cambiado mucho: para la gran mayoría de bailarines caleños los 45 dólares que requieren para el vestido y el calzado de sus presentaciones es una fortuna. Con ese dinero muchas bocas comerían en sus casas. En diciembre danzan, dichosos, durante toda una tarde a lo largo de una autopista. Esa cita callejera —el Salsódromo—, que convoca a más de cien mil caleños y turistas, se realiza desde hace seis años, y ofrece seis horas de baile desenfrenado.
Esa tradición, la del baile, comenzó a escribirse hace más de 70 años a ritmo de guaracha, aire musical cubano que fue conquistando bailaderos populares y prostíbulos, especialmente del centro. Corrían los años cuarenta cuando la Cali obrera y de inmigrantes del campo que llegaron huyendo de la violencia, comenzó a acoger con delirio la guaracha y, con ella, a los ritmos de La Sonora Matancera.
Lo cuenta el escritor y salsero de corazón, Medardo Arias. Él está seguro de que la pasión por la rumba se debe, en parte, a esas voces poderosas que pasaron por La Sonora como Celia Cruz, Daniel Santos y Bienvenido Granda. Ellos, sin saberlo, fueron despertando, al son de guarachas y boleros, a la Cali de entonces, aletargada con los valses y guabinas que sonaban en refinados salones.
En clave de música cubana, de trompetas matanceras y el corretear de tumbadoras, los caleños, pues, fueron dando los primeros pasos de lo que hoy conocemos como el fenómeno salsa. Cali fue haciéndose ciudad y construyendo sus barrios de baile en baile. Bailar, más que diversión, fue el camino —creen algunos que pagano— que hallaron los habitantes para salvarse del extravío, para expresarse, para sentirse incluídos.
Lo hicieron a su modo: alterando la velocidad de la música de los long play de 33 revoluciones que viajaban a Cali desde el cercano puerto de Buenaventura, a bordo del Ferrocarril del Pacífico. Nadie sabe a quién se le ocurrió que para darle gusto al cuerpo sobre la pista era mejor hacerlo girar a 45 revoluciones, muchísimo más veloz, pero ese estilo hoy es un sello cultural. “Los músicos puertorriqueños vieron cómo sus bogaloos, especie de guajiras lentas, se convertían en veloces y endemoniadas versiones. Cambiar las revoluciones de un disco fue el primer aporte de Cali a la salsa, y los bailadores fueron de eso testigos de excepción”, afirma el escritor Medardo Arias.
Desde entonces, ya no fue solo cuestión de ritmo y cadencia. También se bailaba la melodía. Sea cual sea el instrumento, piano, bajo, conga o hasta el mismísimo pregón del cantante ¡todo podía bailarse con gran velocidad de la cintura para abajo!
A esa consolidación ayudó el cine mexicano y un personaje, el pachuco bailarín, que se hizo célebre haciendo acrobacias al son del mambo de Pérez Prado y La Sonora Matancera. El bailador caleño de los años cincuenta y sesenta imitaba los pasos de mexicanos como Tintan, Resortes, La tongolele y María Antonieta Pons, cuyas piruetas se proyectaban en cines y teatros como el Rialto y el Sucre.
Para Miriam Collazos, bailadora de esos tiempos, de lo que se conoce como la vieja guardia, el caleño fue puliendo su estilo gracias a varios factores: “La agilidad que aprendimos de los negros; la picardía y coquetería de las mujeres indígenas y, de alguna manera, el respeto por las formas clásicas y elegantes de los blancos”.
De alguna manera, en Cali se espera que la película Ciudad Delirio sea una nueva oportunidad para contarle al mundo que, en vez de bailar, los caleños hicieron hace muchísimos años un pacto de buena rumba con el mismísimo diablo.
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/08/29/actualidad/1377805715_405130.html