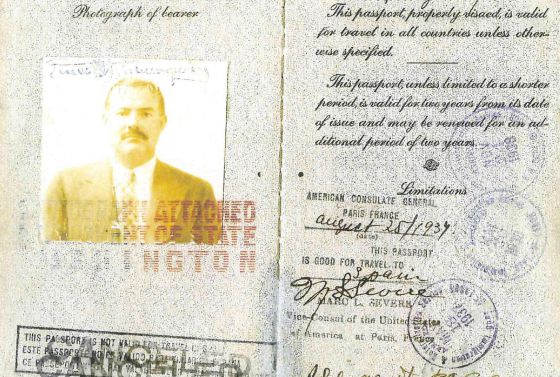El escritor estadounidense Jeffrey Eugenides. / Pascal Perich
Nacido en 1960 en Detroit, urbe que durante décadas fue el corazón de la industria automovilística más poderosa del planeta, a lo largo de su infancia y juventud
Jeffrey Eugenides vivió de cerca el dramático proceso de deterioro que sufrió su ciudad natal desde el punto de observación privilegiado de Grosse Point, zona residencial situada en las orillas del lago Michigan. Estos dos enclaves, el centro urbano de Detroit y las áreas limítrofes a la metrópolis, constituyen el escenario de sus dos primeras creaciones novelísticas.
Las vírgenes suicidas (1993) refiere la historia de cinco hermanas que ponen fin de manera consecutiva a sus vidas tras asomarse al terror primordial del sexo. Contada en primera persona del plural, la narración reproduce las fluctuaciones del coro de voces masculinas configurado por los antiguos pretendientes de las hermanas. La novela sorprendió por su frescura y originalidad y fue llevada al cine por
Sofia Coppola. Nueve años después, en 2002, el escritor americano de origen griego publicaba una fábula si cabe más audaz y sorprendente que la anterior.
Middlesex es una obra de considerable complejidad y ambición, diestramente contada por alguien (Calíope o Cal Stephanides, según el momento de la historia en que nos encontremos) que cambia de sexo durante el transcurso de la narración. La novela efectúa un recorrido por varias fases de la historia de una familia que se muda de continente, a la vez que da cuenta de diversos episodios históricos con la crónica convulsa de Detroit como trasfondo.
Middlesex fue galardonada con el Premio Pulitzer en 2007. Con misteriosa regularidad, tras otros nueve años exactos de silencio narrativo, en 2011, Eugenides publicó en Estados Unidos una obra muy distinta de sus dos apuestas narrativas anteriores.
La trama nupcial, que ahora edita Anagrama, es una luminosa meditación acerca de la distancia que media entre la vida y la literatura cuando esta última trata de atrapar el misterio inasible de la pasión amorosa. Con enorme agilidad, la acción da cuenta de las peripecias de un triángulo sentimental en el que se ven envueltos tres jóvenes que cursan estudios universitarios en un campus de élite de la Costa Este de Estados Unidos. En
La trama nupcial Jeffrey Eugenides se adentra en un mundo ficcional tan alejado de los que había explorado en sus dos entregas anteriores que el lector tiene la sensación de estar frente a un escritor radicalmente nuevo. La conversación tiene lugar en un café senegalés de la Avenida Madison, en Manhattan. Jeffrey Eugenides transmite una impresión de inmediatez, claridad, sencillez y autenticidad que son reflejo fiel de los sentimientos que transmite su prosa.
PREGUNTA. Resulta intrigante saber que el motor de su última novela fue una frase que acababa de escribir.
RESPUESTA. Rigurosamente cierto. La protagonista de
La trama nupcial estudia semiótica en la universidad, aunque lo que le gusta de verdad son las novelas a la antigua usanza, como las de
Jane Austen. La frase que usted dice es: “Los problemas amorosos de Madeleine empezaron cuando sus lecturas de teoría literaria desconstruyeron la idea que tenía del amor”. En el momento en que escribí eso comprendí que tenía que empezar una novela distinta.
P. ¿Qué papel juega en todo esto la semiótica?
R. Madeleine lee con fruición los
Fragmentos de un discurso amoroso, de
Roland Barthes, libro que le sirve para articular una postura intelectual acerca de la experiencia del amor, que la realidad se encarga de desmontar con suma facilidad, porque a la hora de la verdad se enamora perdidamente sin que ninguna teoría le sirva de ayuda.
P. Usted es autor de tres novelas que llaman la atención por lo distintas que son entre sí. ¿Cómo ve los cambios que le han llevado de un título a otro?
Cuando escribo un guion siento que estoy ante un enorme vacío. Echo de menos los matices de que es capaz la prosa
R. En
Las vírgenes suicidas prima el lenguaje. No tenía aún mucha experiencia como novelista de modo que no pensaba demasiado en cuestiones como el argumento, que desvelo en el primer párrafo. Con
Middlesex la cosa cambió radicalmente. Es una novela extensa, de una complejidad infinita, con numerosas ramificaciones, un verdadero rompecabezas, de manera que era imperioso prestar atención al armazón argumental. En
La trama nupcial los personajes lo son todo. Dejé que fueran ellos quienes escribieran la novela, en lugar de imponerles una historia desde fuera como autor.
P. Las vírgenes suicidas está narrada en la primera persona del plural, algo que los escritores suelen rehuir. ¿Fue difícil?
R. No. Me limité a confiar en la voz. Le dejé leer el manuscrito a Donald Antrim, el escritor, que es muy amigo mío y me preguntó por qué no me olvidaba de las voces individuales y formaba un coro colectivo. La voz que empecé a escuchar entonces era como un conjuro que me llegaba de las profundidades del libro. Usted es escritor y sabe que en ficción lo más importante es dar con la voz que ha de conducir la narración. Cuando se da con ella, se trata de seguir sus indicaciones.
P. Te descubre cosas.
R. Te descubre cosas porque conecta con algo que hay dentro de ti. Te dice cosas que no sabías, es casi como si te diera permiso para adentrarte en el mundo que te has propuesto explorar. De repente se oye una voz que te dice qué debes hacer. Muchas veces el escritor está sumido en la incertidumbre, sin saber bien qué dirección tomar, hasta que una voz le señala el camino a seguir.
P. Usted fue alumno de John Hawkes.
R. Fui a la universidad para poder estudiar escritura creativa con él.
P. Hawkes era un experimentalista radical, pero usted parece haber evolucionado gradualmente hacia posturas más convencionales.
R. Si en el momento en que pusiera un pie fuera de este café me atropellara un autobús lo que dice usted sería cierto, pero tengo que decir que en estos momentos estoy escribiendo unos relatos que tienen muy poco de convencional.
P. ¿Cree que hay una cierta tendencia a volver a la tradición entre los escritores más importantes de su generación?
P. No es que me haya propuesto llevar la misión retrógrada de volver a la novela decimonónica, pero es verdad que hay cosas que vale la pena preservar de la tradición. La única manera de dar nueva vida a la novela es recombinando elementos muy dispares, mecanismos posmodernos, elementos tradicionales, aspectos de la novela psicológica, mezclándolo todo. No hay por qué sacrificar los logros del pasado en aras de ningún doctrinarismo.
P. ¿Qué libros hay en las estanterías del estudio donde escribe en su casa de Princeton?
La manera de dar
nueva vida a la novela
es recombinando elementos: mecanismos posmodernos, elementos tradicionales...
R. Sobre todo novelas y poesía de los grandes maestros del siglo XX,
Joyce,
Beckett, mucho
Nabokov, bastante
Philip Roth,
Saul Bellow y
Alice Munro, a quien cada vez leo más.
P. ¿Qué libros le han impactado más a lo largo de su vida?
R. Me vienen dos a la cabeza. Uno es
Pálido fuego, de Nabokov. Lo leí durante un viaje a Turquía y me pareció que el reino de Zembla del que se habla en el libro se salía de las páginas fundiéndose con la realidad circundante. Era como si en lugar de a Turquía hubiera viajado al interior del libro. Desde el punto de vista emocional, la lectura más estremecedora de toda mi vida fue la de
Anna Karenina. Ningún libro me ha impactado nunca tanto.
P. Nueve años exactos entre novela y novela. ¿Por qué tarda tanto?
R. Es como preguntarle a alguien que está haciendo el amor por qué no para.
P. ¿Es solo cuestión de placer?
R. En cierto modo sí, aunque hay otras cosas. Cuando escribo una novela no existe nada más. Vivo dentro de ella, me absorbe por completo. No sigo ningún plan, porque entonces se convierten en algo demasiado obvio, vivo dentro de la historia y normalmente no me siento satisfecho con lo que hago, al revés, me siento confundido y no sé en qué dirección seguir. Pero la historia avanza, voy viendo cómo se gesta milímetro a milímetro y cuando me quiero dar cuenta han pasado años.
P. ¿Cómo se da cuenta de que ha llegado el momento de parar?
R. Hay un punto en que todo lo que se le hace al libro lo empeora. Se empiezan a añadir partes que no hacen falta, a reescribir pasajes que al final no quedan mejor. Cuando pasa eso es momento de parar.
P. La palabra suicidio no parece circunscrita a su primera novela. También surge con cierta frecuencia en
La trama matrimonial.
R. Supongo que debería preocuparme.
Martin Amis volvía con cierta insistencia a la idea del suicidio hasta que un día se dio cuenta de que alguien había plantado esa semilla en él, alguien que conocía y que acabó por suicidarse había inoculado la idea en él y se filtró a los libros. Así que encontrarme el asunto en mis libros empieza a inquietarme.
P. Un elemento religioso gravita ocasionalmente sobre la novela. Alusiones a
La nube del no saber, los místicos españoles, el maestro Eckhart, el viaje a India…
R. En
Las variedades de la experiencia religiosa, William James explica bien cómo opera ese instinto en la gente joven. En ese sentido hay una razón personal. Hubo un tiempo en que me interesé por cosas como la meditación zen. Pero más allá de eso, creo que el elemento de que habla es algo radicalmente ausente de la novela contemporánea, lo cual es lamentable. En Anna Karenina, Levin sostiene una lucha consigo mismo por eso, porque siente que la vida carece de sentido y cuando al final de la novela nace su hijo tiene la impresión de que ha entrado en contacto con el origen de la vida, y es un momento muy intenso. Creo que momentos como ése, presentes también en la obra de otros grandes novelistas, nos obligan a enfrentarnos con nosotros mismos, planteándonos las preguntas más radicales que se derivan del hecho de existir. ¿La vida, la suya, la mía, tiene algún sentido o no lo tiene? La pregunta brilla por su ausencia en la literatura contemporánea y creo que es legítimo volver a formularla.
En La trama nupcial los personajes lo son todo. Dejé que fueran ellos quienes escribieran la novela, en lugar de imponerles una historia
P. Su novela le da un giro muy hábil al asunto al trasladar la cuestión del sentido de la vida al plano literario, preguntándose por el sentido o el significado de los textos que leemos. Los libros de teoría literaria que lee la protagonista proclaman la muerte del autor, del texto, del significado, aunque la realidad de su vida va por otro lado.
R. Muy poca gente ha visto ese aspecto de mi libro. Toda la cuestión de la semiótica no es más que una envoltura tras las que se ocultan cuestiones de más largo alcance. Hay un paralelo entre la negación del sentido en la literatura y la negación del sentido en la vida.
P. ¿Cuánto hay de autobiográfico en su novela?
R. Un 37%.
P. ¿El resto se lo deja a la imaginación?
R. Tampoco se puede dejar todo el trabajo a la imaginación. Lo vi muy claro cuando estaba escribiendo
Middlesex. Había elementos históricos, como los sucesos de 1922 en Esmirna que exigen documentarse rigurosamente.
P. ¿Qué escritores le interesan entre sus contemporáneos?
R. Martin Amis,
Franzen,
David Wallace, Donald Antrim, George Saunders, y como le dije cuando me preguntó por mis estantes, Alice Munro. Cada vez la leo más.
P. En uno de los últimos números de
The New York Review of Books,
el artículo estrella es un análisis de
Homeland por
Lorrie Moore, una de las escritoras estadounidenses más respetadas. ¿Cree que los novelistas de mayor talento escriben para la televisión? ¿Que el equivalente al espíritu de
Dostoievski sobrevive en series como
The Wire?
P. David Foster Wallace fue el primero en decir cosas así, cuando confesaba que estaba enganchado a
The Wire. Pronto lo comprobaré, porque me han encargado trabajar para la pantalla, aunque la verdad es que escribir novelas o escribir para televisión son actividades radicalmente distintas. Cuando escribo un guión siento que estoy ante un enorme vacío. Echo de menos los matices de que es capaz la prosa narrativa. Eso no quiere decir que no me gusten las series de televisión. Las veo, pero no sustituirán a la literatura. La idea de que la gente va a dejar libros para dedicarse exclusivamente a ver televisión es simplemente falsa. Ahora bien, hay una idea importante detrás de todo esto. Aunque como escritor no me preocupa la competencia que supuestamente se quiere hacer a la literatura desde otros medios, nunca me he avergonzado de querer atrapar la atención de la gente con un libro. Eso es algo totalmente legítimo que todos buscamos. Philip Roth no se cansó de decirlo. Nadie quiere ser tan frío e intelectual como para escribir libros que solo se enseñan en clases universitarias que son un pestiño. El escritor tiene que ser consciente de su obligación de darle algo gratificante al lector, algo que este no puede encontrar en ningún otro lugar salvo en un buen libro.
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/04/30/actualidad/1367341460_834471.html